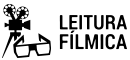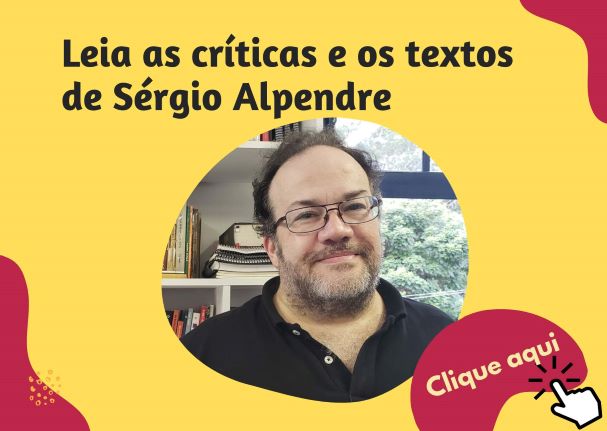Pai, afasta de mim esse cálice
– Chico Buarque, “Cálice”
Estamos como el
amor que se echa a perder
violando todo lo que amamos
para vivir
para vivir
– Charly García, “Total Interferencia”
Em Adiós a la memoria (2020), Héctor Prividera sofre de um declínio cognitivo que o afasta de suas lembranças. Talvez por ter forçado tanto a memória, ele é perseguido pelo maior dos seus paradoxos: esquecer o seu próprio esquecimento. As anotações de seu “caderno para não esquecer” são apenas palavras vazias. Nos cadernos, lê-se músicas, nomes de filmes e livros. Todo tipo de nomes próprios. Porém, apenas um se repete de tempos em tempos: Marta Sierra. O nome de sua esposa, uma militante desaparecida durante a última ditadura militar na Argentina. Héctor insiste com perguntas, tentando se lembrar: “Quem é Marta Sierra?”.
A vida de Héctor nos revela algo além de sua experiência pessoal: a vida de um país. Ele viveu e respirou o ar político dos anos 60 e a fantasia coletiva de uma revolução. Conheceu o terror da ditadura, o silêncio e a solidão do “discreto desencanto da burguesia.” Com ele, termina uma parte do testemunho vivo da história argentina e é aqui que as palavras de Halbwachs ganham força, quando nos lembram que, por meio da memória, apreendemos um passado que já não existe, mas que permanece vivo através daqueles que o sobreviveram. Assim, é possível traçar uma linha do tempo entre a idade de Héctor e alguns fatos da história nacional sobre os quais a memória e o esquecimento oscilam. E assim, pesa o esquecimento de Héctor em termos de uma amnésia coletiva do passado recente argentino.
Gostaria de abrir um longo parêntese. Em 24 de março de 1976, o regime militar foi instalado na Argentina. Naquele mesmo dia, a ditadura impôs um pacote de medidas que buscavam, por um lado, dar uma fachada legal à condução e coordenação da luta “antissubverssiva” e, por outro, delinear o regime orgânico do terrorismo de Estado por meio do chamado “Processo de Reorganização Nacional (Proceso de Reorganización Nacional)”. Foi assim que se estabeleceram zonas de operacionalidade em todo o território nacional, o que permitiu demonstrar o funcionamento deliberado e meticuloso do sistema repressivo que vigorou no país até 1983. As forças militares não apenas tinham à sua disposição todos os recursos — materiais e simbólicos — do Estado, mas, também, elaboraram um esquema minucioso de perseguição, roubo, detenção, tortura e desaparecimento de pessoas por toda a Argentina. Em 1985, o emblemático Julgamento das Juntas deixou claro que os desaparecidos e sobreviventes da ditadura, por mais “subversivos” e “perigosos” que fossem, não tiveram o direito a uma defesa judicial e devido processo, como, em contrapartida, tiveram seus verdugos.
Muitos deles cumprem sua pena; outros tantos morreram e alguns ainda estão sendo julgados. Mas todos compartilham do mesmo pacto de silêncio que persiste até hoje, apesar da insistência dos movimentos de direitos humanos. Parece uma redundância histórica reiterar alguns desses fatos, especialmente tendo como precedente a rejeição contundente à “teoria dos dois demônios “que, em seu tempo, integrou o prólogo do relatório Nunca Mais. Essa teoria equiparava a violência estatal à guerrilheira — quando a guerrilha já estava, praticamente, dizimada. Contudo, ultimamente, as obviedades não estão em excesso. E se não estão, é porque hoje vemos ressurgir, com veemência, narrativas que legitimam o terrorismo de Estado.
No final do filme, o narrador (Prividera) nos diz: “enquanto o pai se afundava em sua desmemória, o país era mais uma vez dominado pelo sonho de se desvincular do passado”. Enquanto isso, vemos algumas imagens do esquecimento: trabalhadores removendo as pedras pintadas no círculo das Mães e Avós da Praça de Maio e manifestações que exaltam a ditadura militar. É verdade que o crescimento dos setores revisionistas e negacionistas no país pode ser rastreado até o final de 2015. Se fizermos uma reconstrução de alguns eventos e declarações públicas de funcionários, encontraremos o embrião de uma relativização generalizada da violência política durante a década de 70. Houve cortes no orçamento da Secretaria de Direitos Humanos, uma redução nos julgamentos de crimes contra a humanidade, e benefícios foram concedidos aos condenados. Porém, o ponto culminante desse tipo de discurso veio com a decisão “2×1” da Suprema Corte, que permitiu reduzir a pena de Luis Muiña, condenado por crimes contra a humanidade (decisão que foi revertida pouco depois por uma lei). Fecho parêntese.
Em um filme anterior (M, 2007), vemos a Nicolás Prividera com uma roupa de detetive visitando diferentes locais: desde instituições de direitos humanos e casas de amigos até a escola onde sua mãe trabalhava. Filmando, ele encontra testemunhas, elabora hipóteses e reconstrói uma crônica de seu desaparecimento. Em Adiós a la memoria, quem responde às perguntas de Nicolás é o pai. E uma das coisas que chama a atenção é como ele se refere ao pai: Nicolás não diz “meu pai”, mas “o pai”. A narração em terceira pessoa estabelece uma distância com o narrado e os protagonistas da história. O espaço entre o narrado e a ação de narrar permite que ele se coloque como sujeito que é narrado, e que seu lugar seja substituído por biografias semelhantes, porque possivelmente existem “outros Nicolás” e “outros Héctor”.
Escolhi duas canções na epígrafe. Uma delas é “Cálice”, de Chico Buarque e Gilberto Gil, e a outra é “Total interferência”, de Charly García. Conhecemos bem os três artistas por suas trajetórias musicais, mas também porque integraram a contracultura em tempos de ditadura. Buarque e Gil no Brasil, e García na Argentina. A canção argentina foi lançada em 1984, e a brasileira, em 1978. Embora, naquele ano, a democracia estivesse nascendo na Argentina, e no Brasil o regime iniciado em 1964 permanecesse, em tal momento a ditadura já estava quase desarticulada.
Charly diz: “Estamos como/ o amor que se deixa perder/ violando tudo o que amamos/ para viver”, e algumas estrofes mais tarde, deixa ainda mais claro a (aparentemente) impossível convivência entre o amor e a violência: “violamos tudo o que amamos para viver (Estamos como/ el amor que se echa a perder/ violando todo lo que amamos/ para vivir)”. Na canção brasileira, a pronúncia da palavra em português “cálice” ganha significado porque soa como “cale-se” (o que traduzido em espanhol seria “cállese”, “faça silêncio”). Os artistas Gilberto Gil e Chico Buarque dizem: “Pai, afasta de mim esse cálice”, como se fosse um filho (re) renegando o silêncio que o pai lhe oferece. Quando ouvi a canção, a primeira coisa que pensei foi que o filho se nega ao silêncio do pai com as palavras que aprendeu dele. Depois, lembrei que Nicolás aprendeu a filmar com a câmera do pai.
O primeiro filme de Prividera foi há mais de 15 anos, quando filmava M em 2007, e continuava com Tierra de los padres, em 2011. As datas são importantes quando falamos de memória, nos ajudam a medir o tempo e a refletir sobre como uma sociedade lida com o trauma. Na Argentina, o início do século patenteou nossa identidade com uma série de políticas de memória. Tanto que, entre Maradona e as Mães da Praça de Maio, se conjuga a iconicidade argentina, juntando as duas faces dos anos 70: o futebol e a ditadura; a festa e o terror.
Seu segundo filme, Tierra de los padres (2011), revisita duzentos anos de história nacional através da leitura de textos que datam do século XIX em diante. O local escolhido para a “citação” literária é nada menos que o cemitério da Recoleta: o mausoléu que abriga os restos fundacionais da Pátria e da aristocracia argentina. O trabalho de Prividera parece deixar claro que um filme sobre o passado é, antes de tudo, uma releitura do presente. É até uma redundância dizer “terra dos pais” se resgatamos a etimologia de pai enquanto pátria (pater), embora seja uma redundância necessária para entender o que move o diretor. Com certeza, notamos que ele se interessa por alguns temas: a memória, a história, o pai e a mãe.
Neste filme, os “pais” da história conseguem falar com a voz de seus contemporâneos. Em Adiós a la memoria, é o filho quem toma a palavra, e seu pai, o silêncio. Mas seria injusta uma interpretação tão rigorosa quando a história nos pede nuances. Não seria o esquecimento do pai, afinal, o sintoma de uma censura autoimposta para viver (como diz Charly)? Um dos méritos deste filme é que nos coloca no centro de profundas contradições. Afinal, seríamos capazes de exigir algo do pai? Deveríamos julgá-lo pelo silêncio? Pela submissão? Por um lado, vemos que a história fez o que quis com Héctor, e um olhar malicioso até poderia dizer que a história se vingou com aquilo que ele mais amava e, ao mesmo tempo, mais sofria: sua memória. Mas, também, não poderíamos dizer que quem escolheu o silêncio e o distanciamento das discussões políticas de seu tempo saiu ileso e vitorioso. O que seria capaz de ser pior do que o desamparo de uma ilusão coletiva?
O filme é, quase todo, feito com as imagens que o pai filmou. Essas imagens têm um interesse narrativo. Não são realizadas casualmente. O pai espera contar uma história. Talvez, por essa razão, depois que a mãe desaparece, o pai continua filmando só por mais um tempo. Mas, desta vez, substituindo a imagem da mãe pela imagem da tia. Pouco tempo depois, o pai perceberá que as imagens não substituem porque as imagens também são feitas de presença. É impossível esconder o vazio da mãe nos filmes caseiros. Então, ele deixará de filmar.
Não há uma relação direta entre pai e filho sem a mediação da imagem e, claro, nem em sua relação com a mãe. O filho constrói uma memória da mãe através dos filmes do pai porque ele “não tem lembranças anteriores ao sequestro”. Ao fazer filmes, ele não apenas reconstrói o passado da mãe, mas também a conhece. Ele também constrói o passado de sua mãe, que não é outro senão o seu próprio, e o de seu pai. Surpreenderia-nos então, que esse menino, na sua vida adulta, se dedique a fazer filmes?
Os filmes de Prividera nos convidam a ir além das imagens, mas permanecendo nelas. Se elaborássemos uma trajetória das imagens, saberíamos que não é possível diluir a relação cinema/vida. Vem-me à mente aquele maravilhoso filme de Eric Pauwels, La deuxième nuit (feito também em 2016, ano em que começa a primeira imagem de Adiós a la memoria). O nome do filme francês se refere à primeira separação de um bebê do corpo da mãe. Nesse momento, inicia-se o desprendimento que ao longo da vida se abre, se aprofunda e se estanca quando a mãe morre. Quando a mãe de Pauwels morre.
Em vez de nos perguntarmos quanto tempo leva para cicatrizar uma ferida, após a segunda noite, seria melhor perguntar: Quanto tempo leva para uma ferida se formar? E como uma ferida pode demorar toda uma vida. Finalmente, Pauwels nos revela o que poderia ser sua “hipótese poética”: filmar um filme para (tentar) voltar à origem. Voltar ao seio materno. Voltar à mãe.
O hábito de fazer imagens não é a única coisa que o filho herda do pai. Além da semelhança física entre os dois, ambos escrevem em cadernos. No ano do golpe militar, o pai escreveu um diário cifrado para a memória de seus filhos que, com o tempo, se torna incompreensível até para ele mesmo. O filho faz suas anotações sobre o filme que vai fazer sobre a memória do pai. Muito se pode dizer sobre as variadas formas de escrita em relação à personalidade de seu autor. Existem as escritas apertadas, complicadas, vulgares, precipitadas, estranhas ou raras. O traço, o contorno, a pressão da mão sobre o papel podem indicar impaciência, cólera, agitação ou confusão; inteligência, benevolência ou retidão.
Antigamente, existiam salas chamadas “Scriptorium”, onde os copistas (também conhecidos como “os iluminadores”, “os revisores” ou “os colaboradores”) passavam horas copiando os códices e manuscritos. Outras vezes escrevendo originais. Os copistas diziam que era um trabalho com todo o corpo, embora apenas três dedos escrevessem. Os escribas trabalhavam em condições precárias: sentados no chão, com as pernas cruzadas, apoiando o papiro em uma delas. Graças aos copistas medievais, conhecemos os textos antigos, embora sua devoção à escrita fosse uma tarefa árdua e fatigante. Nada muito diferente do que Clarice Lispector diria séculos depois, escrever é uma maldição que salva: “É uma maldição porque obriga e arrasta como um vício penoso do qual é quase impossível se livrar, pois nada o substitui. E é uma salvação. Salva a alma presa, salva a pessoa que se sente inútil, salva o dia que se vive e que nunca se entende a menos que se escreva” (Lispector,1984, p. 83).
Nas anotações de Héctor, é como se o esquecimento devorasse as palavras. Nas últimas notas, ele escreve menos, deixa espaços vazios. Contradizendo a escritora brasileira, diríamos que o pai “cada vez se entende menos”.
Texto escrito pela artista e pesquisadora em memória Lucía Sbardella.